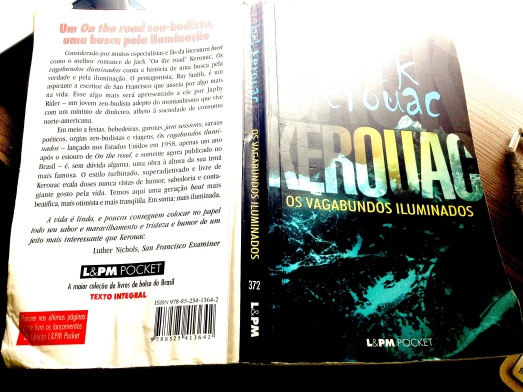Strokes “On a highway to hell and going down“: os americanos desistiram de fazer um rock dançante e alto astral para apostar numa overdose de sintetizadores
Sintetizadores são o ícone musical dos anos 80. Naquela década que hoje é exaltada e cantada em revivals que não acabam nunca, aquele barulhinho metálico e aeroespacial vindo de um teclado conquistou fãs e marcou toda uma geração. New Order, Pet Shop Boys, Oingo Boingo, A-HA, The Pretenders, Duran Duran, Simple Minds… Todo mundo passeou por ali em algum momento. Depois vieram os rocks farofas, o grunge, os indies e eis que, em pleno desenrolar da segunda década do Século XXI, algumas bandas de rock vanguardista estão incorrendo num erro grosseiro, que é usar (e abusar) desse maldito recurso que já ficou pra trás e hoje só deveria existir nas festas do Paulinho Madrugada (Anos 80).
O pior exemplo, e para mim a grande decepção do momento, é o Strokes. Por muitos anos, enquanto tinham lançado apenas os três primeiros discos, os caras eram frequentemente citados como a maior banda dos anos 2000. Emplacaram vários clássicos e conseguiram um repertório respeitável, de qualidade, com personalidade própria e que ia muito além do mega hit Last Night. Mas aí ficaram cinco anos sem gravar nada, os integrantes da banda entraram em carreiras solo – um deles até andou tocando com o camarada do Los Hermanos – e veio o já decepcionante quarto disco, em 2011, o tal do Angles. Ali já dava pra ver que os caras tinham se perdido – What the fuck is Machu Pichu?
Mas, não contentes em jogar no lixo toda a reputação construída numa década já encerrada, os caras nesse começo de ano vinham divulgando em doses homeopáticas e torturantes as novas músicas do quinto disco, Comedown Machine, inclusive com clipes gravados no Brasil. Ainda com algum rescaldo dos primeiros discos, me arrisquei a ouvir a nova obra de Joe Casablanca (e cia definitivamente limitada), lançada na íntegra nessa semana.
E o resultado não poderia ser pior. A cada música que ia escutando, ia ficando inconformado. À exceção de 80’s Comedown Machine e All The Time, que são lampejos de recordação dos bons e velhos tempos, o resto todo do álbum é um frankestein aberrante que inclui overdoses massacrantes de sintetizadores, como em One Way Trigger, um tecnobrega que lembra as rumbas latinas e certamente vai ficar famosa pelos gritinhos falsetes ridículos e pelo clipe tosco gravado nas ruas de São Paulo. 50 50 parece feita especialmente para você dormir e Call It Fate, Call It Karma fica como dica para os DJs que quiserem expulsar todo mundo de uma festa sem precisar dizer “chega, vão para casa”.
Se o Killers já é uma banda com tendências eletrônicas e “sintetizadoras”, o Strokes resolveu clonar sem a menor vergonha os conterrâneos. Escute a faixa com o sugestivo nome de Partners in Crime e será difícil saber se quem está cantando ali é Joe Casablanca ou Brandon Flowers. Outra que se esforça bastante (e consegue com louvor) para deixar de cabelo em pé até mesmo o fã antigo mais ardoroso da banda é Welcome to Japan, um lixo. E Tap Out deve ter saído diretamente da discografia não-autorizada da Cindy Lauper.
Aliás, o vocalista do Strokes anda inventando de cantar em estado de agonia. Só isso explica os berrinhos agudos intragáveis e as gravações como se o camarada estivesse cantando de dentro de um chuveiro. Ele simplesmente estraga músicas com potencial como Slow Animals e Chances.
Para completar, parece que os caras ainda entenderam errado o papo pós-moderno de que fazer música para videogame é um caminho para o sucesso. A faixa Happy Ending parece adequadissima para um jogo tipo Super Mario Bros.
Fico de verdade triste com esses rumos que algumas bandas tomam. É legal experimentar coisas novas, mas rock de verdade tem guitarra, meu Deus do céu. O experimentalismo de uma banda que eu já curti muito me deixa realmente frustrado. Ainda bem que existem caras como Pearl Jam, Foo Fighters e até mesmo o recente Wolfmother para mostrarem que é possível continuar fazendo um som cada vez mais legal sem estuprar o ouvido de quem aprecia um bom, velho e novo rock and roll.
Que os Strokes descansem em paz.